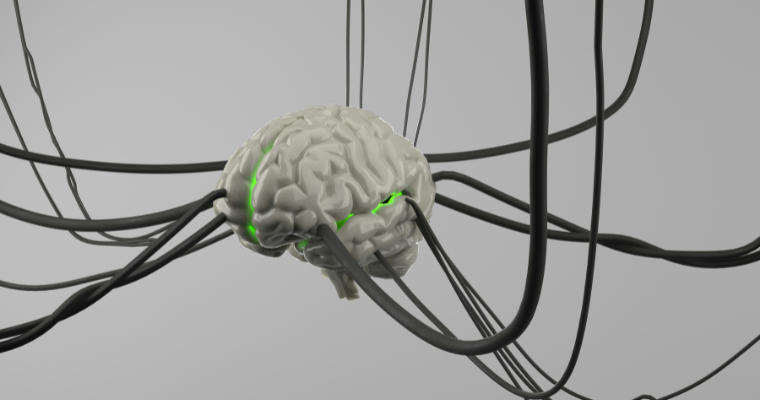Celso Niskier traz para a Coluna Ensino Superior de julho uma análise dos rumos e desafios do setor, destacando caminhos para inovação e qualidade acadêmica
A educação sempre buscou entender como o ser humano aprende. Durante séculos, baseou-se em teorias filosóficas, experiências empíricas e práticas pedagógicas intuitivas. Hoje, a neurociência oferece uma nova lente para aprofundar esse conhecimento: ela nos permite compreender, com base científica, como o cérebro processa informações, forma memórias, regula emoções e responde aos estímulos do ambiente escolar.
Essa convergência entre ciência e pedagogia inaugura uma era promissora. Já não é mais possível falar em educação de qualidade sem considerar o funcionamento do cérebro. Entender como os alunos aprendem, por que esquecem e o que os motiva são peças-chave para aprimorar metodologias, currículos e avaliações. A neurociência não dita regras, mas oferece fundamentos sólidos para a inovação educacional.
Um dos achados mais relevantes é a relação entre emoção e aprendizado. O cérebro aprende melhor quando está emocionalmente envolvido. Ambientes acolhedores, aulas que despertam curiosidade e relações de confiança entre professores e alunos favorecem a liberação de neurotransmissores como dopamina e oxitocina, que potencializam a memorização e a atenção.
Outro ponto crucial é o papel do sono na consolidação da memória. A privação de sono — comum entre estudantes e até professores — prejudica o processamento das informações e compromete o desempenho acadêmico. Incentivar rotinas saudáveis, pausas durante os estudos e estratégias como a revisão espaçada dos conteúdos são práticas baseadas em evidências neurocientíficas.
A neurociência também desmonta mitos antigos. Um exemplo é a ideia de que usamos apenas 10% do cérebro ou que há “estilos de aprendizagem” fixos (como o visual, o auditivo ou o cinestésico). Estudos mostram que o cérebro aprende por múltiplas vias simultaneamente e que a aprendizagem multimodal — envolvendo imagem, som, movimento e interação — é mais eficaz do que abordagens isoladas.
No campo das dificuldades de aprendizagem, os avanços são ainda mais relevantes. Distúrbios como dislexia, TDAH e discalculia são hoje melhor compreendidos e diagnosticados, permitindo intervenções pedagógicas mais precisas e personalizadas. A neurociência contribui, assim, para uma escola mais inclusiva, que respeita os tempos e as formas diversas de aprender.
Contudo, é importante ter cautela. Nem toda “neuroeducação” é ciência. O risco dos chamados neuromitos é real — ideias pseudocientíficas que prometem soluções milagrosas. Por isso, é essencial que educadores sejam formados com base em pesquisas sérias e desenvolvam um olhar crítico sobre as inovações pedagógicas ancoradas no discurso científico.
A aliança entre neurociência e educação não elimina o papel do afeto, da cultura ou da criatividade. Pelo contrário: ela reforça a importância de uma pedagogia centrada no ser humano, respeitosa com seus ritmos e potencialidades. Ao compreender como o cérebro aprende, podemos ensinar melhor. E ao ensinar com mais ciência, ensinamos com mais consciência — e com mais esperança.

Conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE), presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).